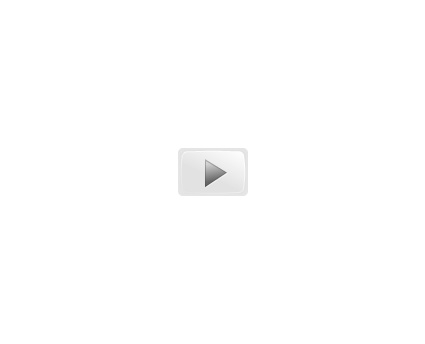Por Marina Garcés
Bloqueio das contas governamentais internacionais (1999-2009), manifestações massivas contra a guerra (2004), bairros e carros em chamas, em Paris (2005) e na Grécia (2008-2010)... Nas sociedades ocidentais atuais existe pouca resistência, pouca capacidade de organização e de resposta, mas um grande repúdio mobiliza as pessoas de idades, raças e linguagens diferentes. Não os une o consenso nem um discurso comum. Seu motor é a raiva. Num mundo dominado pelos consultores e especialistas, vendedores de receitas e de soluções a curto prazo, a rejeição se vive como déficit: não temos respostas, não há política, não há futuro. Os mitos do esquerdismo ajudam, ainda mais, a tingir de desalento nosso repudio: o compromisso, a organização, as alternativas, a utopia etc, nos deslumbram desde um passado inalcançável, desde uma esperança mítica que só pode ser recebida sob o signo de nossa atual incapacidade. Nas ruas de Atenas em chamas, no inverno de 2008, alguém pintou com raiva: “Fuck May 68. Fight now”. Nas mobilizações, em Barcelona, contra a reforma universitária européia (Plano Bolonha), um professor disse em transmissão direta pela televisão, enquanto a policia se jogava brutalmente contra os manifestantes: “Somos uma minoria e não vamos mudar o mundo. O quê?”
Os textos políticos que Maurice Blanchot escreveu entre 1958 e 1968 são um antídoto contra esse assédio ideológico à força coletiva do repúdio. Entre o retorno de De Gaulle ao poder, após a crise da Argélia, e a revolta estudantil e operária de Maio, abre-se uma década que Blanchot descreve em diversos panfletos, artigos e documentos de trabalho como de “morte da política”. A morte da política se instala e paralisa nossas vidas quando o poder se transforma em potência de salvação. Então, novamente, voltou De Gaulle ao poder em 58. O espaço do antagonismo e do dissenso políticos foram anulados diante da iminência de uma ameaça que se convertia em permanente: a guerra. As guerras coloniais dos anos 50 disseminaram, hoje, numa multiplicidade de frentes: a ameaça terrorista, a ameaça ambiental, a crise econômica e, no mais íntimo, a ameaça do desequilíbrio psíquico individual. A política tem intensificado sua missão de salvação e penetra em todas as fissuras, inclusive as mais pessoais de nossa existência. Como descreveu Foucault, o poder moderno se desenvolve como um poder pastoral, dedicado à salvação individual de cada um dos membros de uma sociedade. Roberto Esposito amplia este traço da biopolítica foucaultiana com sua análise do paradigma imunitário da modernidade: “somente a modernidade faz da autoconservação individual o pressuposto de todas as demais categorias políticas” [1]. E, como temos analisado em Espai en Blanc [2], quando o poder é poder de imunização, toda a sociedade se converte numa sociedade terapêutica, [3] composta exclusivamente por vítimas e por cuidadores. Frente a este poder salvador cuidador que despolitiza todas as relações e se apresenta, portanto, como inquestionável, Blanchot invoca a força comum e anônima do repúdio, a força amistosa do Não. Não é a expressão de um juízo ou de uma proibição de distância, mas é a efetuação de uma ruptura. Romper é o movimento comum imprescindível para homens e mulheres que ainda não estão juntos, porém que já estão unidos pela “amizade desse Não certeiro, inquebrantável, rigoroso, que lhes mantém unidos e solidários”. [4] Quando Blanchot, professor de linguagem indireta e inacabável, escreve essas palavras cristalinas, está se referindo a um repúdio literal: o dos homens franceses que se declararam insubmissos diante do chamamento do exército da República para a guerra da Argélia. Como em tantas outras ocasiões (Semana Trágica em Barcelona, Revolução 2 portuguesa dos cravos etc), a deserção do exército em guerra é o detonador de uma rejeição que alcança magnitudes maiores e que se converte no primeiro grito contra todo um sistema de dominação. Não é casual. Nesse momento privilegiado de repúdio, no qual os corpos se declaram em fuga da máquina de morte que os chama, se dá um descobrimento que não passa pelo combate entre ideologias, mas por opções vitais nas quais se joga tudo. Em Blanchot, esse descobrimento que se forja entre 1958 e 1968, tem duas características especiais: o do valor absoluto e sem medida do repúdio e o do caráter impessoal ou anônimo do comum.
São as duas características que articulam as propostas de revistas coletivas nas quais embarca nessa mesma década junto com escritores amigos como Dionys Mascolo, Robert Antelme e tantos outros. O 14 Juillet (1958-59), a Revue Internationale (1960) e a revista Comité (1968) são projetos abortados ou de vida breve nos quais se põe em primeiro plano, para Blanchot, a necessidade de “dizer o mundo” através de um “questionamento total” e de uma voz de escritura coletiva, fragmentária e anônima. O apoio à insubmissão de 1958 fez emergir um novo poder dos intelectuais ao qual Blanchot chama “a comunidade anônima dos homens”. É um poder que vai mais além do compromisso individual e voluntarista sartreano. É um poder que, graças a sua radicalidade crítica, põe em questão a individualidade mesma do escritor e de sua nominalidade. Seu nome, que não necessariamente é apagado nessas publicações, passa a ser um traço, junto a outros, da força impessoal que nasceu do repúdio. O repúdio, a afirmação da ruptura é, portanto, o descobrimento de que a força do comum é anônima e de que sua palavra é infinita. Essa palavra não pode possuir-se a si mesma. Está em ruína permanente. Contra toda tentação dogmática, diz Blanchot: “porém, mantendo o direito suplementar de denunciar nossa destruição, ainda que seja por meio de palavras já destruídas”. [5] Os projetos de revista reunidos nessas páginas são a tentativa de construir novos sentidos coletivos a partir dessas palavras já destruídas e de converter, assim, a negação do repúdio numa afirmação que não se acomoda, mas que “desordena”. [6]
Eu me rebelo, nós somos
Uns dois anos antes, em 1951, Albert Camus escreveu esse livro tão famoso e tão pouco lido atualmente: O homem rebelde. Nele nos convida a ir mais além do absurdo como paixão individual e a fazer da revolta coletiva um novo cogito. Parodiando Descartes, formula um princípio que deve nos permitir fazer tábua rasa, deixar para trás as opiniões herdadas que nos impedem de pensar para começar de novo. Esse cogito, seguindo a estrutura da tese cartesiana “penso, logo existo”, teria a seguinte formulação: “Eu me rebelo, portanto, nós existimos”. Escreve Camus que a revolta, como o “Não, certeiro” de Blanchot, é o princípio que arranca o homem de sua solidão. É o vínculo vivo entre o eu e o nós, um vínculo que não precisa passar pela mediação do contrato social nem pela fundação do Estado moderno. Pelo contrário: na revolta, o nós é experimentado como desejo de autonomia. De minha revolta pessoal, do repúdio absoluto que me empurra a dizer “não”, me situo no plano horizontal de um nós. Um homem que diz “não” é um homem que repudia, mas que não renuncia, escreve Camus nas primeiras linhas da introdução. E não renuncia porque descobre, com seu “não”, que não está só. O conteúdo desse “não”, mais além de todo juízo, é a emergência de um tudo ou nada que, mesmo que nasça do indivíduo, põe em questão a noção mesmo de indivíduo. Com a revolta, “o mal sofrido por um só homem se converte em peste coletiva”. [7] Essa peste tem um estranho nome: dignidade. Na revolta, algo levanta o indivíduo em defesa de uma dignidade comum a todos os homens. Essa é a força anônima do repúdio, da qual Blanchot faz experiência poucos anos depois: “o poder de repudiar não se realiza a partir de nós mesmos, nem só em nosso nome, mas a partir de um começo muito pobre que pertence, em primeiro lugar, àqueles que não podem falar”. [8]
A relação entre repúdio e revolta passa pela noção de limite. O repúdio é insurreição e revolta porque “toma partido por um limite no qual se estabelece a comunidade dos homens”. [9] Contra toda idéia de liberdade absoluta, contra o sartreanismo da ação pura, por um lado, e contra o liberalismo da liberdade individual consensuada, por outro, Camus aponta a luta pela dignidade comum, do homem e do mundo, como pensamento da medida. A medida, para Camus, nascida da revolta mesma, não é o resultado de nenhum cálculo. É a pura tensão que põe à vista os limites de uma vida humana digna. Contra o que nos dizem hoje as mensagens publicitárias, educativas, culturais etc, não existem medidas puramente individuais, não existem vidas feitas “sob medida”. A personalização atual de todas as dimensões da existência é precisamente a culminação da violência contemporânea, que fragmenta nossas experiências até anular nelas qualquer traço de uma dimensão comum.
Frente a isso, a medida é a tensão do arco tendido, da madeira que chia, da flecha a ponto de ser disparada. Com a revolta emerge esse limite não dito, esse limite imanente a cada situação, mais além do qual a vida não merece ser vivida. Esse limite da medida comum, anônima porque ninguém pode fazê-la unicamente sua. Nesse umbral aberto pela força de um “não” compartilhado, já não entram em consideração as circunstâncias de cada um. Desde um novo individualismo conquistado pelo cogito da revolta, cada um tem se convertido nesse arco tendido que suporta, lutando, uma dignidade que nunca será só sua, mas que depende de cada um de nós. Deleuze também fala da emergência pertubadora desse limite não dito e cotidianamente não experimentado quando escreve sobre a “visão do intolerável”, como acontecimento através do qual nasce em nós outra sensibilidade. Mas, em Deleuze, não fica claro o estatuto dessa irrupção, dessa suspensão da maneira cotidiana e normal de ver o mundo. Como se altera a visão? Como nasce, em nós, essa outra sensibilidade? Ao não aceitar o momento negativo da revolta, a visão do intolerável é, para Deleuze, algo que acontece e ao qual se pode responder ou não, estar ou não à sua altura... A revolta, todavia, é mais do que uma resposta, porque ela mesma impõe o limite. Como pensamento da medida comum rompe a alternativa entre o decisionismo e o pensamento do acontecimento. Na revolta, somos um sujeito coletivo que enfrenta o mundo, mas esse enfrentamento não se sustenta numa pura decisão da vontade, senão no descobrimento de um limite que ganha sentido, inclusive o sentido absoluto de um tudo ou nada porque é compartilhado. Por isso, a revolta não depende de “querer se rebelar”. Quantas vezes queremos nos rebelar e não podemos. Só conseguimos nos indignar. A revolta é um sentimento que, ao mesmo tempo, depende de nós e nos atravessa: é a força anônima do repúdio.
Sabemos que os arcos se rompem ou relaxam. Como se manter no limite? Como viver sem esgotar a tensão compartilhada na revolta? Como evitar que a dignidade comum se converta nesse esquecimento sobre o que construímos nossos pequenos projetos de felicidade individual? A revolta, quando perde sua dimensão comum, se converte em amargura, impotência, cinismo.
Esse perigo é o que também, em torno dos anos 50, na França, percebeu Merleau-Ponty. Toda sua filosofia é um discurso contra a violência liberal que nos impõe ser, apenas, indivíduos, “viver como se não estivéssemos no mundo”. [10] Toda sua filosofia, interrompida pela morte prematura, é uma grande aposta por reaprender a ver o mundo a partir da pergunta pelo nós. Trata-se de reaprender a ver o mundo, portanto, não como objeto, mas como dimensão comum. Como Camus, Merleau-Ponty desafia Descartes, pai do sujeito moderno, formulando também um novo cogito: “Eu sou o meu corpo”. Não há argumento, nesse caso, mas uma afirmação nua que, vinculando o eu à corporalidade, abre-o a sua impossível individualidade. Porque sou meu corpo, não posso ser só um indivíduo. Através do corpo, Merleau-Ponty está apontando o mesmo descobrimento que Camus e Blanchot fazem através da revolta e do repúdio: estou entrelaçado com o mundo e com os outros. O limite, portanto, não é esse lugar impossível que o liberalismo descreve como duas liberdades que se roçam. O limite não é um marco, é um laço. Não separa propriedades, mas entrelaça vidas inseparáveis. Pele contra pele, sem nos fundir estamos sempre ligados: por isso só podemos ser livres, juntos. Essa é nossa dignidade comum. Como Blanchot, Merleau-Ponty sabe que o nós que suporta essa dignidade só pode ser anônimo, já que excede o sentido atribuível a um sujeito, seja individual ou coletivo. Inclusive excede, para Merleau-Ponty, o âmbito do humano. Porque somos um corpo, nossos laços desenham um campo de relações que se estende à natureza, aos objetos, à história e aos outros.
A filosofia de Merleau-Ponty nos ensina a perceber os lugares invisíveis de nossa medida comum mais além do momento da revolta. A atenção sensível à corporalidade, como via de acesso a um mundo que nos tem sido expropriado, põe de igual modo o indivíduo fora de si, nas bordas de sua própria impossibilidade. “Eu sou meu corpo” arranca também o homem de sua solidão e o expõe à riqueza silenciada do mundo que existe entre nós. Essa riqueza não pode ser revelada, não há, para ela, o momento da epifania. A materialidade corpórea e sensível da filosofia de Merleau-Ponty nos situa no terreno da percepção e da práxis, num campo de relações, a carne do mundo, que não nos acolhe, mas que nos descobre envolvidos. Na filosofia de Merleau-Ponty, a verdade da revolta se converte em exigência de uma aprendizagem permanente, em voz silenciosa, indireta muitas vezes, que mantém ativa a resistência contra a violência liberal. Reaprender a ver o mundo é se descobrir envolvido, implicado já antes de haver decidido. Em suas palavras, tantas vezes poéticas, se trata de “despertar nos vínculos” (s‟éveiller aux liens). [11] À sombra da revolta, nos momentos em que esta emudece, há um trabalho por desenvolver, “uma verdade por fazer” [12] a qual só se pode chegar com os outros. Esses outros não estão fora de mim, nem a minha frente, como na cena hegeliana da luta pelo reconhecimento. De alguma maneira, já vão comigo. “Eu sou meu corpo”, o novo cogito de Merleau-Ponty, se encontra com o “Eu me rebelo, nós somos”, de Camus. Ambos apontam para um nós que não pode ser o produto nem da ingerência social nem da vontade ética, mas é o fundamento mesmo de nossa existência como condição existencial e política.
A palavra infinita
Nem Camus nem Merleau-Ponty chegaram a viver os acontecimentos do Maio de 68. Duas mortes súbitas e prematuras interromperam sua busca da dignidade comum. Camus, em 1960, perdeu a vida num acidente na estrada. A Merleau-Ponty, um ano depois, o coração falhou enquanto trabalhava discretamente em seu despacho. Só Blanchot chegou a ver como a força anônima do repúdio tomava as ruas de Paris e sacudia a morte política na qual a sociedade se achava imobilizada. Inesperadamente, chegou o momento de “afirmar a ruptura”, de responder à chamada do fora, declarando-se em guerra contra um poder com o qual não podia haver nenhuma via de colaboração.
Em 68, a ruptura já não é só deserção mas se torna revolução: ruptura do tempo, descontinuidade radical, acontecimento que produz o vazio. “Devemos pensar sem assistência, sem outro apoio que a radicalidade desse vazio”. [13] Nesse vácuo revolucionário, que interrompe a história e derruba a lei, se dão duas experiências cruciais, que vão marcar o pensamento posterior de Blanchot: a vivencia direta de uma palavra infinita e indomável e a experiência da comunidade. Como se tem analisado tantas vezes e como Michel de Certeau resumiu em seu famoso livro A tomada da palavra, Maio de 68 é, principalmente, a festa de uma “comunicação explosiva” na qual todo o mundo tinha algo a dizer, a dizer-se. Como escreverá Blanchot quinze anos depois, “dizer prevalecia sobre o dito”. [14] Essa palavra fragmentária, capaz de recorrer o sentido coletivo, almejada por Blanchot e seus amigos nas revistas desses anos, irrompe nesses dias como escritura mural, como “clandestinidade à plena luz”. [15] A palavra infinita e indomável não tem nada que ver nem com a liberdade de imprensa nem com o diálogo recomendado pela “bobeira ou pela hipocrisia liberal”. [16] Contra a indiferença a qual foi submetida a palavra no chamado “mundo livre”, Blanchot reivindica a palavra que transgride porque existem marcos para ela, porque se diz rompendo e rompendo-se, porque sua pluralidade não é codificável como diversidade de opinião. Sua diferença o é porque vai até a ruptura mesma da comunicação. Jacques Rancière tem recolhido essa experiência em sua teoria do dissenso (mésentente), [17] da palavra política como palavra que abre o espaço do antagonismo rompendo os consensos de uma divisão de sentido, de visibilidade, de representação. Hoje mesmo, na primavera de 2009, das intermitentes e precárias manifestações de repúdio que acontecem em nossas cidades, seguimos vivendo o assédio contra toda palavra capaz de chegar com sua diferença a um ponto de ruptura. O código desse assédio é bem simples: ou diálogo ou violência. A experiência mais recente que temos disso está se dando nos protestos estudantis contra o Plano Bolonha para a reforma da universidade européia. Toda palavra, gesto ou ação que não se submeta à violência do diálogo e de seus parâmetros já impostos, é codificada como violenta. Como tal, pode ser reprimida legitimamente pela violência policial e julgada pelos meios de comunicação. Não tem saída para este círculo. Só podemos fazê-lo estalar. Porém, para isso, é preciso a força de um nós, a consistência de um espaço comum capaz de resistir ao assédio, à agressão, a todos os dispositivos de codificação e aniquilação.
Essa é a outra experiência do Maio de 68: a da força do comum, a da aparição de algo ao qual alguns se atreveriam a chamar, de novo, “comunidade”. Nesse ponto, é importante introduzir uma precisão decisiva para tudo que vamos discutir em continuação. Na realidade, o tema da comunidade como tal não aparece até os textos dos anos 80 quando, a partir da leitura de J. L. Nancy sobre Bataille, publicada no famoso texto “A comunidade inoperante”, se inaugura uma tradição intertextual dentro da filosofia contemporânea européia que ainda hoje está dando seus frutos. Se observamos os escritos de Blanchot de 1968, juntos nas paginas desse livro, se fala de uma transgressão levada a cabo “por uma pluralidade de forças, escapando a todos os marcos do protesto e que, falando com propriedade, não vem de nenhuma parte, insituadas insituáveis”. [18] No anonimato plural dessas forças que rompem os marcos previstos da contestação sobrevive a exigência do comunismo, um comunismo “que exclui (e se exclui de) toda comunidade já constituída. A classe proletária, comunidade sem outro denominador comum que a penúria, a insatisfação, a carência em todos os sentidos”. [19]
Quinze anos depois, em 1983, Blanchot retorna à questão do Maio de 68 em seu pequeno livro A comunidade inconfessável, escrito em resposta ao texto que citamos de J. L. Nancy. Blanchot fala, nessa ocasião, da festa de uma “comunicação explosiva”, da manifestação, sem projeto nem vontade política, de “uma possibilidade de estar-juntos que dava a todos o direito à igualdade na fraternidade de uma liberdade de palavra que exercia cada um”. [20] Essa possibilidade de estar-juntos se descreve como uma “presença inocente”, uma presença comum com o impossível como único desafio. E acrescenta: “Creio que se deu então uma forma de comunidade, diferente daquela cujo caráter temos definido, um desses momentos em que comunismo e comunidade se encontram e aceitam ignorar que se realizam perdendo-se imediatamente. Não tem que durar, não deve tomar parte em nenhum tipo de duração...” [21]
Essa comunidade que se realiza perdendo-se é a que Bataille havia dado o nome de comunidade negativa ou comunidade ausente. E é a que permite a J. L. Nancy e a Blanchot retomar o tema da comunidade após o fracasso do comunismo. O individualismo neoliberal dos anos 80 reclamava de novo encontrar palavras para pensar e experimentar o comum mas o fantasma tanto do essencialismo comunitário fascista quanto da “traição” estatista do comunismo, dificultavam encontrar uma via para fazê-lo. A proposta de J. L. Nancy, nesse contexto, consiste em se desfazer do que considera o engano que oporia um comunismo verdadeiro (puro) ao comunismo real (traidor). Para Nancy, o que está se mostrando em seu aspecto mais problemático é a base mesma do ideal comunista: o homem definido como produtor de sua própria essência através de suas obras e como produtor de si mesmo, portanto, como comunidade. O obstáculo para um pensamento da comunidade é o ideal comunista da imanência total do homem ao homem, da comunidade à comunidade. Frente a isso, a filosofia desgarrada e ferida de Bataille oferece o ponto de partida para pensar a comunidade decapitada e inacabada, a comunidade da partição, a comunidade da finitude. Em definitivo, a comunidade de sua própria impossibilidade ou, como recolheria Blanchot, a comunidade que se realiza perdendo-se. É a comunidade revelada através da morte. Nancy, seguindo Bataille, está propondo abandonar a idéia moderna da comunidade como resultado de uma ação política, como algo a fazer ou a construir.
O que ficaria então no lugar da ação política? Resta apenas a exposição, o êxtase. Este é o grande tema do pensamento da comunidade tal como esses autores propõem retomar. A comunidade ausente é a experiência de um êxtase pelo qual o indivíduo se inclina fora de si mesmo. É uma experiência dos limites, entendidos não como a medida comum que se mostra na rebelião ou através de nossa vida corporal, mas como as bordas da finitude, ali onde esta, esteja no limite do nascimento ou da morte, fica exposta aos outros. Expor-se não é uma ação. Se assim fosse, seguiria remetendo a um filosofia do sujeito, capaz de decidir e de se definir segundo sua vontade. O êxtase “é o que acontece com a singularidade”, escreve Nancy. [22] Giorgio Agamben retoma o mesmo fio de pensamento em A comunidade que vem: o “que seja” é “o sucesso de um fora”, [23] uma experiência do limite, um dom que a singularidade recolhe das mãos vazias da humanidade. A presença desse dom que põe o indivíduo fora de si e o obriga ante o outro, do dom como obrigação que se contrai com o outro, é o vestígio que Roberto Esposito detecta na etimologia mesma da palavra “comunidade”: munus, o dom, que somos obrigados a retribuir, é o que articula o espaço vazio da comunidade. Esse seria, portanto, “o conjunto de pessoas as quais une, não uma propriedade, mas justamente um dever ou uma dívida”. [24] Como acrescenta mais adiante: “Não é o próprio, mas o impróprio – ou mais drasticamente, o outro – o que caracteriza o comum”. [25] Blanchot diz algo similar: “a estranheza do que não poderia ser comum é o que funda essa comunidade eternamente provisória e sempre desertada”. [26] A comunidade aparece ali onde o indivíduo é posto fora de si, em seus limites. Porém, agora esses limites já não têm que ver com os que se impõem com a força anônima do repúdio, desde a amizade desse “não certeiro”. A experiência comunitária dos limites tem se convertido agora na experiência, necessariamente compartilhada, da finitude. Não podemos nos estender em todas as implicações dessas teses nem em todas as relações internas entre as diversas propostas que se entretecem nesse grupo de pensadores. Mas é importante seguir o fio desse deslocamento para valorizar suas conseqüências políticas. Expor-se, estar fora de si, é expor-se a morte do outro, ao outro em sua alteridade irredutível.
Com a exposição que Nancy vincula especialmente o tema batailleano e, porque não, heideggeriano, da morte, faz sua aparição o outro (l’autre/autrui). A morte sempre é a morte do outro. Blanchot, seguindo seu amigo Lévinas, é quem introduz de forma mais clara essa volta:
“Porém se a relação do homem com o homem deixa de ser a relação do Mesmo com o Mesmo para introduzir o Outro como irredutível e em sua igualdade, sempre em assimetria em relação ao que o considera, impõe-se então outro tipo completamente distinto de sociedade que quase poderíamos nos atrever a chamar comunidade”. [27]
Heidegger e Lévinas se encontram de novo através de seus leitores Nancy e Blanchot. E, dessa vez, se encontram não para se desmentir, mas para se reforçar. A ontologia do ser-com (Mitsein), que Heidegger aponta em Ser e tempo, mas não chegou a desenvolver e que Nancy toma como o centro de todo seu pensamento da comunidade, faz seu encontro com a ética levinasiana da alteridade infinita, da responsabilidade para o outro anterior a qualquer lei. Esse encontro se torna possível porque ambos vão mais além da ontologia e da ética respectivamente para se aproximar de novos cenários, dos quais pensar a comunidade. Na realidade, essa comunidade da distância, que se recusa a atuar e que abre a possibilidade de um estar-juntos sem projeto e sem porque, é a comunidade que só se pode experimentar na palavra literária ou no amor. Ou, seguindo Bataille, na comunidade literária e na comunidade dos amantes. Nos dois casos, escrever e amar, fazemos experiência da infinita distância do outro, da fusão ou da imanência como impossibilidade. A experiência dessa partição que recorta as singularidades em sua distância irredutível é a comunidade mesma como “espaçamento do fora de si”.[28]
Curiosamente, e agora vale a pena precisá-lo, os parágrafos de Blanchot sobre o Maio de 68 estão situados na segunda parte da “comunidade dos amantes”. Os acontecimentos do Maio francês são relidos, portanto, desde esse cenário. Escreve Blanchot que os amantes são comunidade porque não têm outra razão de existir do que se expor inteiramente um ao outro, para que apareça sua comum solidão. Por isso pode acrescentar: “A comunidade dos amantes (...) tem como fim essencial destruir a sociedade”. [29] O que resta nessa possibilidade de destruição da força anônima do repúdio sobre a qual escrevia Blanchot nos anos 50 e 60? Longe do “não certeiro” no qual se dava a experiência de uma amizade política e a intuição de uma possibilidade futura de mudança, parece que nos anos 80, juntamente com Nancy e perto de Lévinas, Blanchot está falando de outra experiência do comum na qual o Outro absoluto, e não o nós, se tornou o protagonista solitário de qualquer idéia de comunidade. Nesse cenário, do qual tem sido deliberadamente descartada a ação política como base da comunidade, a relação com o outro assinala um tipo de pertença que não remete a nenhum tipo de vínculo, mas que é pensada como pura comunicação entre singularidades, entre um e outro. Como vemos, Maio de 68 é entendido a partir daí como a festa de uma comunicação infinita. E como escreve Nancy: “A comunicação, nessas condições, não é um vínculo (...) A ordem do comparecimento é mais originária que a do vínculo. Não se instaura, não se estabelece ou não emerge entre sujeitos (objetos) já dados. Consiste na aparição do entre como tal: tu e eu (o entre-nós), fórmula que não tem valor de justaposição mas de exposição”. [30] Anos mais tarde, Nancy reforça o sentido não vinculativo desse “entre” da seguinte maneira:
“Tudo passa entre nós: esse entre, como seu nome indica, não tem consistência própria, nem continuidade. Não conduz de um a outro, não serve de tecido, nem de cimento nem de ponte. Talvez, nem sequer seja exato falar a respeito de vínculo: nem está ligado nem desligado, mas por baixo de ambos (...) Todo ser toca a qualquer outro, mas a lei do tato é a separação”. [31]
Blanchot já havia abordado muitos anos antes, em 1969, o caráter abismal e infinito dessa relação com o outro em L’entretien infini. Ali propõe uma relação que chama de terceiro gênero na qual um e outro perdem seu caráter pessoal e subjetivo para experimentar a impessoalidade, a neutralidade, da alteridade radical. O neutro é a nova figura do anonimato, tal como se apresenta na cena da alteridade. Como o anonimato coletivo põe em marcha uma relação que rompe o campo lógico e lingüístico do diálogo entre sujeitos, de seu encontro, unidade ou superação. Mas, acrescenta Blanchot: “Essa seria a relação de homem para homem quando já não houver entre eles a proposta de um Deus, nem a mediação de um mundo, nem a consistência de uma natureza”. [32] É uma relação, portanto, pensada desde uma separação que não remete a nenhuma unidade pensável: um e outro no abismo, na vertigem, na interrupção que escapa à toda medida. Blanchot continua: “O que haveria entre o homem e o homem, se não houvesse nada mais que o intervalo representado pela palavra „entre‟, vazio tão vazio que não se confunde com o puro nada, seria uma separação, dando-se como relação nessa exigência que é a palavra”. [33] Uma vez desfundamentada qualquer possibilidade de pensar de novo a ação política ou a política como ação, só resta lugar para a palavra que habita nossa separação infinita, a comunicação como habitat de nossas irredutíveis distancias.
Crer no mundo
Desde a inoperabilidade como paradigma de toda política futura, Blanchot encontra o lugar para uma experiência lingüística da alteridade marcada pelo estigma do judaísmo, tal como ele mesmo explica nos últimos textos juntos nessas páginas, situados nos anos 80 e 90. Nancy, por sua parte, encontra a possibilidade de uma experiência do sentido capaz de se abrir ao ser-com, ao nós, como verdade esquecida do ser. Essa experiência do sentido e da verdade, pela qual nós somos o único sentido, é o que anula a onipotência do poder e suas razões (religiosas, econômicas etc). Nela reside, então, a possibilidade de abrir o espaço de uma política não estatal que consistiria em se expor à verdade da origem em sua multiplicidade, ao fato irredutível de que cada singularidade é uma origem do mundo. Na mesma linha, Agamben situa também a nova política inoperante numa experiência da linguagem como potência, na qual se pode apresentar a pergunta pelo como, a interrogação sobre as formas de vida. Blanchot falava da experiência do 68 como a de uma comunidade sem projetos, sem vontade política. Agamben dirá: “O que está em questão na experiência política não é o fim mais nobre, mas o mesmo ser-na-linguagem como medialidade pura, o-estar-no-meio como condição irredutível dos homens”. [34] Seguindo a pista dos Escritos políticos de Blanchot encontramos os traços da viagem coletiva que nos levou até os limites do indivíduo, para acabar vislumbrando, nesse lugar fora de si, a possibilidade de uma exposição inoperante ao ser lingüístico do homem como lugar para fazer a experiência da comunidade (da alteridade, do que-seja, do com-). Nessa viagem pode se ler, sem muito esforço, a história mais recente da Europa revolucionária, suas expectativas derrotadas e seus medos atuais.
Talvez hoje, de um mundo que intensifica dia a dia o assedio e a agressão sobre nossas vidas, nossos corpos e sobre o meio físico no qual vivemos, seja preciso, para nós, reencontrar a força anônima do repúdio. Encontrar-nos, sem estar juntos ainda, na amizade de um “não certeiro” que nos leve até nossos limites, fora de si, para nos expor. Para nos expor a quê? Dizíamos no início desse texto que nossa atualidade está atravessada pela irrupção intermitente da expressão coletiva e anônima desses repúdios. São revoltas efêmeras que apenas conseguem modular sua voz e cuja recusa só deixa marcas invisíveis sobre a pele do mundo. O mundo global, instalado numa nova “morte política”, nos declara incapazes de fazer qualquer coisa que ultrapasse o âmbito da gestão de nossa vida pessoal, nem de fornecer nenhuma solução ao mundo. Com suas ameaças permanentes (de guerra, de crise, de doenças, de contaminações...) nos convida a se proteger, a se assegurar, a se isolar na indiferença a tudo e na distancia de algumas comunicações imateriais e personalizáveis. Daí, que sentido pode ter para nós hoje se expor?
Para responder essa pergunta, talvez nos sirva seguir a pista dos que morreram antes do tempo, dos que nem sequer chegaram à festa do Maio. Dos que não tiveram que assumir as cautelas que seguiram à derrota. Como vimos, Albert Camus falava em O homem rebelde da rebelião como experiência do limite, que arranca o homem de sua solidão porque o expõe, não à alteridade, mas a medida comum da dignidade. O homem que se rebela descobre que não está só, não porque se ache na presença do outro ou aberto à potência da comunicabilidade, mas porque faz experiência de um limite que não concerne só a ele, mas que tem a ver com a vida dos outros. Merleau-Ponty, por sua vez, nos punha diante da evidencia silenciada de que nossos corpos não são dados biológicos isoláveis, mas nós de atividade significativa, ligados uns com os outros e com o mundo natural e histórico. Tanto Camus quanto Merleau-Ponty torcem o indivíduo fora de si, levam-no até as bordas de sua autoreferencialidade insustentável. Expoem-no. Mas, o que encontra o eu que é arrancado dessa forma de sua solidão? Certamente, não encontra a comunidade nem como obra a construir nem como potencia inacabada de uma palavra infinita. O que encontra é o mundo, que deixa de ser um objeto de contemplação e de manipulação do sujeito, para ser vivido como uma atividade compartilhada: como possibilidade de estabelecer uma dimensão comum na luta pela dignidade e como possibilidade de se implicar na vida, na criação de sentido anônimo e encarnado. O que encontra, portanto, não é uma comunidade, mas um mundo comum.
Expor-se ao mundo não é se expor ao vazio da comunidade, ao entre abismal que garanta uma experiência radical de alteridade irredutível. Essa é a abstração que dominou o pensamento político ocidental da imagem mitológica da ágora grega, como um vácuo no qual a comunidade faz a sua aparição através da palavra. Expor-se ao mundo é ir ao encontro da materialidade do mundo, preso sempre a nossa pele. A experiência do fora se transforma então em experiência da reversibilidade. Só podemos estar fora de si se estamos dispostos a ser tocados pelo mundo. Expor-se ao mundo é aprender que a proximidade não é a antítese da irredutibilidade. Nunca encontraremos o outro recortado na distância diante de nós. Não podemos fazer uma experiência nua da alteridade. O outro está no ar que respiramos, no acento de nossas palavras, nos órgãos de nosso corpo, nos objetos que manipulamos, em qualquer de nossas ações. Expor-se ao mundo é perder o medo da proximidade, o medo da vida material de um nós que excede o âmbito da presença humana.
Daí, a experiência da finitude que está intrinsecamente ligada à experiência do comum, já não é uma experiência que passa pela revelação da morte, mas pelo descobrimento afirmativo da vulnerabilidade dos corpos que somos. A finitude, vista a partir da vida e não da morte, é vulnerabilidade e inacabamento. Somos finitos porque estamos inacabados, porque estamos em continuidade e devemos ser continuados porque não vemos o que está atrás de nós ou nas dobras de nossa pele. Somos finitos porque nossos limites não estão bem definidos e podemos ser lesionados, afetados, amados, acariciados, feridos, cuidados... A sociedade terapêutica, como regime imunitário, nos ensina a administrar nossa vulnerabilidade a partir do medo do contágio e do desequilíbrio. Toda sua gestão se baseia numa proposta controlada e submissa de autosuficiência. Perdê-la é estar perdido. Uma filosofia da vulnerabilidade, e não só da ameaça de morte, nos abre a possibilidade de pensarmos politicamente a partir da dependência que nos vincula uns aos outros, desde uma liberdade entendida não como autosuficiência mas como conquista de nossa própria interdependência. Isso é algo que Judith Butler aponta em seus trabalhos sobre a dor e a perda, [35] mas que seria importante desenvolver mais além da sombra da dor para inscrevê-lo como apresentação fundamental para uma política dos corpos vivos.
Daí, expor-se ao mundo não ser uma mera experiência lingüística. Toda palavra arrasta consigo a materialidade do mundo e se encarna num corpo vulnerável. Por isso se deve revisar a confiança que a filosofia contemporânea tem mantido sobre a lingüística como lugar privilegiado da política. É a concepção clássica que Hannah Arendt retoma em sua redefinição da ágora moderna, mas é, também, a que guia ainda muitas das posições pos-estruturalistas sobre a criação de novos sentidos e formas de vida, assim como as propostas do marxismo italiano mais recente sobre a possibilidade de uma resistência do comum no marco do novo capitalismo cognitivo. Nessa confiança coincidem também as posições expressadas, como temos visto, pelos pensadores dessa comunidade inoperante como preservação de uma comunicação infinita. O problema é que hoje estamos imersos numa crise de palavras, [36] oculta sob a apoteose da comunicação, que não se resolve nem preservando a linguisticidade do ser humano nem devolvendo à linguagem toda sua potência constituinte. O problema das palavras é hoje o de sua credibilidade. Uma palavra crível é aquela que é capaz de sacudir nossa vida e desequilibrar a realidade. Essa é a força de uma palavra de amor. Quando e como pode ter essa mesma força a palavra política? Os estudos tanto teóricos quanto práticos sobre a performatividade se aproximam hoje desse tipo de pergunta. Mas há que ir mais além da teoria do ato lingüístico para poder respondê-la. Uma palavra crível, seja de amor ou da política, é palavra que crê no mundo. Como escreveu Deleuze, há alguns anos, essa crença é talvez o que mais nos falta. Mas, quando hoje um novo estouro irrompe com seu “não” escrito em chamas no ruído da grande cidade global, algo dessa crença num mundo comum está se expressando. Cada vez que dizemos “não”, nos falta o discurso para terminar a frase, para construir algo com a força anônima de nosso repúdio. Mas esse “não” é uma palavra crível. É um “não certeiro”, como escreveu Blanchot. O não no qual se expressa a amizade frágil e inquebrantável dos que não estão juntos, mas se expõem juntos ao mundo.
Marina Garcés é professora de Filosofia da Universidade Aberta da Catalunha e da Universidade de Saragoza. É autora de En las prisiones de lo possible (Barcelona: Editorial Bellaterra, 2002). É uma das fundadoras de Espai en Blanc, um coletivo que se propõe a tornar o pensamento apaixonante, abrindo brechas entre o ativismo e a academia, o discurso e a ação, as ideias e a experimentação, numa aposta ao mesmo tempo filosófica e política.
NOTAS 1. Esposito, R., Bios. Biopolitica e filosofia , Torino, Einaudi, 2004. [Existe traducción al castellano: Bios. Biopolítica y filosofía , Buenos Aires, Amorrortu, 2006.]
2. Espai en Blanc é uma iniciativa filosófica e política “que pretende voltar a fazer o pensamento apaixonante”.
3. Espai en Blanc, núm 3-4, La sociedad terapéutica , Ed. Bellaterra, 2007.
4. Blanchot, M., Écrits politiques 1958-1993, París, Ed. Lignes & Manifestes, 2003, p. 11.
5. Écrits politiques 1958-1993, p. 110.
6. Écrits politiques 1958-1993, p. 104.
7. Camus, A., L‟homme révolté , París, Gallimard, 1951, p. 38. [Existe traducción al castellano en la editorial Alianza, El hombre rebelde .]
8. Écrits politiques 1958-1993, p. 11.
9. Camus, A., op. cit., p. 362. 11
10. É uma expressão central no texto anônimo Appel (“chamamento”), difundido de mão em mão pelo coletivo Tiqqun. Encontra-se em espanhol: Llamamiento y otros fogonazos , en Acuarela y A. Machado Libros, Madrid, 2009.
11. Merleau-Ponty, M., Aventures de la dialectique , París, Gallimard, 1955, p. 225. [Existe traducción al castellano: Las aventuras de la dialéctica , Buenos Aires, editorial Leviatán, 1957.]
12. Merleau-Ponty, M., op. cit., p. 296.
13. Écrits politiques, 1958-1993, p. 147.
14. Blanchot, M., La communauté inavouable , París, Minuit, p. 53. [Existe traducción al castellano: La comunidad inconfesable , Madrid, Arena Libros, 2007.]
15. Écrits politiques 1958-1993, p. 134.
16. Ibid.
17. Rancière, J., La mésentente. Politique et philosophie , París, Galilée, 1995. [Existe traducción al castellano: El desacuerdo , Buenos Aires, Nueva Visión, 2007.]
18. Écrits politiques 1958-1993, p. 94.
19. Écrits politiques 1958-1993, p. 115.
20. La communauté inavouable , p. 52.
21. Op. cit., p. 56.
22. J. L. Nancy, La comunidad desobrada , Madrid, Arena Libros, p. 21.
23. Agamben, G., La comunidad que viene , Valencia, Pre-textos, p. 53.
24. Esposito, R., Communitas , Buenos Aires, Amorrortu, p. 29.
25. Esposito, R., op. cit., p. 31.
26. La communauté inavouable , p. 89.
27. La communauté inavouable , p. 12.
28. La comunidad desobrada , p. 41.
29. La communauté inavouable , p. 80.
30. La comunidad desobrada , p. 58.
31. J. L. Nancy, Ser singular plural , Arena Libros, 2006, p. 21.
32. Blanchot, M., L‟entretien infini , Gallimard, 1969, p. 97. [Existe traducción al castellano: La conversación infinita , Arena Libros, 2008.]
33. Ibid.
34. Agamben, G., Mezzi senza fine. Note sulla política , Torino, 1996, p. 92. [Existe traducción al castellano: Medios sin fin. Nota sobre la política , Valencia, Pre-textos, 2001.]
35. Butler, J., Vida precaria , Buenos Aires, Paidós, 2006.
36. Tomo la expresión de Daniel Blanchard, Crisis de palabras , Madrid, Acuarela, 2007.
(Artigo publicado em Acuarela Libros, no dia 02 de fevereiro de 2011. Tradução: Blog Boca do Mangue)