Eduardo Sterzi
 |
| "Charges escritas - Vol II"
|
 |
| "Um Grande
cavalo..."
"...pepperoni" |
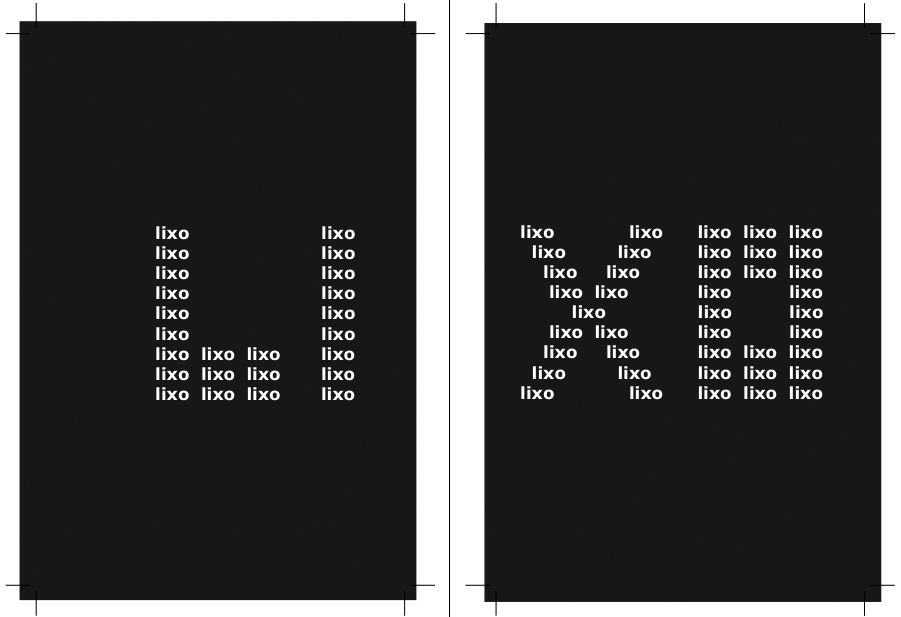 |
| "lixo, lixo (ou charge desdourada)"
|
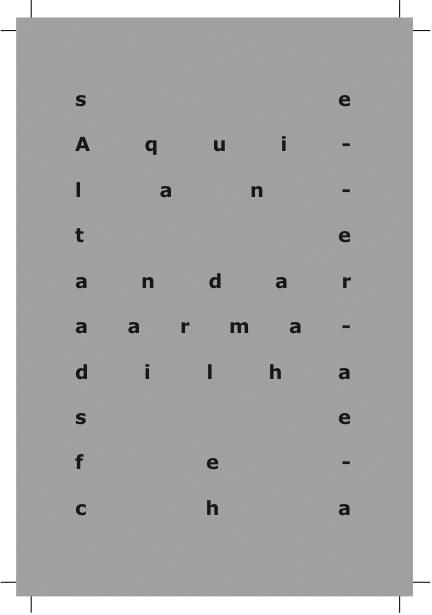 |
| "se Aquilante andar..." |
 |
"Dianted" |
A
charge, como a crônica, pertence radicalmente ao tempo. Ao seu tempo, que é também o nosso:
sua época, nossa época, a fatia de tempo que nos coube. Mas não só: se a
charge, como a crônica, pertence ao seu-nosso tempo de forma radical, é porque
pertence antes àquele tempo que jamais nos cabe de todo (e no qual também
jamais cabemos completamente), tempo-torrente que nos atravessa e desmonta,
perfurocortante embora fluido, fluxo ininterrupto e, por isso mesmo, cego como
uma lâmina, passando por nós ― e por tudo ― sem porquê, contingência total: uma
lâmina que errasse sempre o alvo e ainda assim o acertasse com uma força
desconhecida para os acertos, porque tudo é alvo, não sendo, quando o que se
move é o tempo. O esforço da charge, portanto, nesse duplo pertencimento ao
tempo, parece ser, como o da crônica, o de perseguir o kairós enquanto (e porque) se é acossado ― e desmanchado ― pelo krónos. Daí que ela se produza sempre de
olho no deadline, segundo o léxico do
jornalismo, e tenha sempre, por assim dizer, prazo de validade. Acontecimento
implica vencimento, e a novidade da notícia ― em inglês, não por acaso, news ― é prenúncio de uma antiguidade
precoce.
*
Ezra
Pound definiu a literatura ― mas ele tinha em vista sobretudo a poesia ― como
«news that STAYS news»: «novidade que PERMANECE novidade», notícia que
permanece notícia. Se procuramos, do ponto de vista da concepção temporal, a
diferença entre, de um lado, o poema e, de outro, a crônica e a charge, ela
talvez esteja no fato de que o poema investe na ilusão de que o kairós pode vencer o krónos, ou pelo menos detê-lo, ainda que
provisoriamente ― nos melhores poemas, sem jamais esquecer que é uma ilusão: o
desencanto é parte do seu encanto. E, de fato, o poema como forma ― com a
recorrência interna de palavras e imagens, sons e medidas fornecendo a
estrutura ― tem sempre algo de encantamento, de feitiço, de charme, ou seja, mágica. A charge, por
sua vez, não tem carme nem charme: é ― e quer ser ― imediatamente desencantada,
terrena, vulgar. Esta é, por assim dizer, sua forma ideal; ou o contrário
disso, forma não-ideal mas recorrente, dado que a charge desdenha daquele ideal
a que o poema, por mais pé no chão, jamais deixa de aspirar, ainda que
problematicamente, contraditoriamente, residualmente. Quando a charge mira o
poema ou, como neste livro de Francisco dos Santos, o poema mira a charge, vem
à tona ― tanto quanto nos versos de
circunstância, que são a forma-crônica do poema ― algo como o segredo
histórico da poesia contemporânea, que, nisto, é uma extensão da poesia
moderna: seu pertencimento também radical ao tempo, que faz dela,
inevitavelmente, antipoesia (e, portanto, tão mais poética quanto menos «poética»).
*
De
resto, se a poesia moderna é o momento de revelação da poesia como poesia, isto é, de desnudamento da
estrutura do poema e exposição de seu maquinário, podemos supor que, nesta
revelação do pertencimento radical do texto poético ao tempo, se dá a ver não
somente um vínculo propriamente moderno entre poesia e tempo, mas, talvez, uma
relação que, em outras épocas, deveria permanecer como segredo, porque era
parte da grande fábrica de transcendências, que, por um lado, gera os deuses e,
principalmente, «o Deus», por outro, «a Poesia», «a Arte», «a Literatura» etc.
― uns e outras como invalidações da história. Mas a história sempre tem a
última palavra, porque é nela, história, que a palavra começa e termina,
infindavelmente. O silêncio do fim (da história, da poesia, mas, antes, do
poema) pertence ainda à ordem da linguagem e ao anseio de dizer ou, pelo menos,
nomear; é, em suma, um silêncio essencialmente linguístico, com uma exigência de
significação. E, mais do que parte da linguagem, ele é parte da escrita. É o
próprio maneo da scripta, sua infinita reverberação. (Mesmo quando, no gesto de
escrita, se prefere a urgência à permanência, invejando o voo da palavra
falada.)
*
A
palavra charge é originalmente
francesa. Se vamos a um dicionário da língua, aprendemos que, na pintura,
charge é como se nomeia toda expressão que acrescenta algo de forçado,
exagerado ou grotesco ao natural. A palavra também tem uso no teatro, onde
indica o exagero na maneira de interpretar um papel. Porém, o termo tem muitos
outros usos, nas mais variadas áreas. Designa, de início, tudo aquilo que, seja
material ou imaterial, um veículo, um animal ou um homem podem suportar ou
transportar. É a carga, mas também o cargo ou encargo. É o que incomoda, o que
pesa: a carga sobre as nossas costas que, pelo gesto da charge, buscamos lançar por cima dos que nos sobrecarregaram. No
plural ― charges ―, designa também os
indícios e as provas contra um acusado. No vocabulário militar, como seu
correspondente no português (carga),
sinaliza o ataque impetuoso (charge de
cavalerie, carga de cavalaria).
Algo desse ímpeto, podemos dizer, sobrevive na relação da charge com o tempo
que passa, com o acontecimento e seu quase imediato desfazimento.
*
Diz-se
em francês, também, que alguém está en
charge de, isto é, está encarregado
de algo. Encarregar-se de alguma
função ou tarefa significa carregar o
peso delas ― que é o peso do mundo, ainda que de um mundo, ou mundos, em
pedaços. Em 2010, Georges Didi-Huberman deu, a uma exposição que tinha como
ponto de partida a figura mítica do Atlas (em sua conexão com o atlas como
forma inquieta do saber visual), o título de Atlas: Como levar o mundo nas costas? Não por acaso, na exposição e
no livro a ela associado, Goya desempenha um papel tão importante ― vêm dele,
por exemplo, os títulos de duas das três seções do trabalho (a seção central se
chama exatamente Atlas), que são
convertidos por Didi-Huberman em conceitos: Disparates
e Desastres. Vale lembrar que as
gravuras de Goya são já, em alguma medida, charges
escritas, ainda que nelas se preserve a distinção entre o plano da imagem e
o plano das palavras, entre o que é da ordem do desenho e o que é da ordem da
letra. Porém, as palavras nessas gravuras ― que são títulos, mas também
legendas, além de prenúncio de outra coisa (de poema, diríamos hoje) ― são tão
relevantes que o mesmo Didi-Huberman transforma algumas delas, por meio de
seleção e montagem, numa espécie de estrofe que serve de epígrafe ao seu livro:
Siempre sucede,
Amarga presencia,
Duro es el paso!
Y no hai remedio.
Por qué?
No se puede saber por
qué.
No se puede mirar.
Bárbaros!
Todo va revuelto,
Yo lo vi!
También esto,
Y esto también.
Cruel lástima!
Que locura!
No hay que dar voces,
Esto es lo peor!
Murió la verdad.
Si resucitará?
Ressuscitar
a verdade de um mundo em
conflagração, dominado pela barbárie e pela loucura: o que mais pode querer
quem carrega nas tintas ou nas letras? Mas, enquanto a verdade não ressuscita,
cabe aos artistas e poetas ― convertidos em chargistas ou cronistas, isto é, em
testemunhas eficazes ― fixar imagens e palavras.
*
O
gesto fundamental, nas Charges escritas
de Francisco dos Santos, consiste em extrair não apenas fatos, mas falas, direto do noticiário (que é a
forma como o real nos chega na maior parte do tempo, já recortado pela
perspectiva jornalística), e literalmente enquadrá-las, transformando-as em
quadrados ou retângulos textuais, na linha visual de alguma poesia brasileira
contemporânea que passa por Augusto de Campos, Josely Vianna Baptista e
Frederico Barbosa (o enquadramento ― com sua moldura virtual ― converte as
palavras em imagens). Se a realidade já se apresenta como caricatura, como uma
forma de irrealidade a que custamos, ou recusamos, dar crédito, cabe ao
chargista, mais do que carregar nas tintas (já, de origem, excessivamente
carregadas), produzir de novo estranheza contra aquilo que, no seu absurdo
mesmo, já parecia se naturalizar ou normalizar. Acentuando o aspecto escritural
nas transcrição das falas (daí que o título assinale que são, estas, charges escritas), afirma-se que não há, nelas,
nada de normal ou natural, que o mundo é histórico e, no fim das contas,
consiste no que conseguimos fazer dele.
*
Numa
das charges deste livro, lê-se: «ALTO ESCALÃO / BAIXO CALÃO». Em momentos como
este, fica evidente o vínculo do Francisco dos Santos chargista com a tradição
do epigrama satírico-político, tal como esta já havia sido retomada no Brasil,
em chave contemporânea, pelo José Paulo Paes dos Epigramas, de 1958, mas sobretudo das Anatomias, de 1967 ― cuja primeira edição traz, na capa e em quatro
páginas internas, ilustrações de Moby que são, literalmente, charges. Penso
sobretudo em poemas como «Epitáfio para um banqueiro», «Exercício ortográfico»,
«Ocidental», «À moda da casa» e «Cronologia», nos quais Augusto de Campos, no
texto que escreveu para a orelha do livro, identificou «admiráveis
epigramas-epitáfios da Western Civilization». Campos deu, ao seu texto, o
título de «Anatomias: do epigrama ao ideograma». No entanto, contrariando o que sugere o título, assinala
não exatamente a passagem de uma forma à outra, com a superação da primeira,
mas, sim, a convergência de ambas: «O epigrama e o ideograma se deram as mãos».
No mesmo texto, Campos assinala a força do epigrama ― «gênero maldito»,
«depreciativamente apelidado de “poema-piada” ― entre os modernistas e observa
que sua recuperação por José Paulo Paes fez dele, pelo menos por um «momento»,
«o mais oswaldiano dos poetas». É curioso que, poucos parágrafos adiante, o
poeta feito crítico lance mão justamente da expressão «poema-piada» ― agora, em
chave positiva, ou pelo menos neutra, ao lado de «poema-pílula» ― para dar
conta dos aspectos que, na poesia de Oswald, José Paulo Paes teria levado «às
últimas consequências». Vale lembrar que Anatomias
se abre com uma epígrafe extraída das Mythologies
de Roland Barthes (e talvez se possa mesmo ver o eco de um título no
outro): «Je réclame de vivre pleinement la contradiction de mon temps, qui peut
faire d’un sarcasme la condition de la vérité». Eis, mais uma vez, a questão da
verdade associada a uma forma de escrita, como já tínhamos visto nos «versos»
finais do poema que Didi-Huberman montou a partir das legendas de Goya. O
sarcasmo como condição da verdade: uma boa síntese da profissão de fé do
chargista. Porém, como observou Alfredo Bosi na introdução que escreveu para a
poesia reunida de Paes (e que pode ser lida, em certos trechos, como uma
resposta à orelha de Augusto de Campos), o autor, em Anatomias, mas também em livros seguintes como Meia palavra e Resíduo,
conduz o humor ― não mais apenas «sarcasmo» ― em direção ao «escárnio» do
«instinto de morte» e da «volúpia do nada». Buscando caracterizar os limites
supostos desse encontro do «jogador» e do «terrorista» «sob o signo da
entropia» e do niilismo, Bosi pergunta-se: «Ri o sátiro das pretensões alheias?
Sim, mas não deixa de rir-se também das próprias: não vá o homem de letras cair
na tentação fácil de confiar demais nos seus instrumentos para mudar a ordem
das coisas». Por mais que Bosi se esforce para, em seguida, encontrar uma
saída, na obra do próprio Paes, para o impasse que assinalou, o que persiste do
seu texto é o diagnóstico preciso sobre a relação que esta poesia estabelece
com o mundo: «O mundo muda de forma, apouca-se, envilece, nadifica-se». Ou,
como diz à mesma altura, ao ler o poema «Epitáfio para um banqueiro»», «o signo
final é zero». Talvez esteja aqui a diferença entre as atitudes de José Paulo
Paes e do autor das Charges escritas:
Francisco dos Santos parece se manter no limiar dessa confiança, se não na
possibilidade de realmente «mudar a ordem das coisas», na necessidade ―
poética, ética e política ― de expor a desordem. Talvez esteja aí também a
diferença entre charge e poema, que está inscrita no título do livro. Se, num
dos textos, flagra-se um «deputado destruindo charge / que denunciava violência
poli- / cial exposta no Congresso», o próprio livro ― ao reivindicar o estatuto
da charge ― apresenta-se como desagravo.
*
A
força de testemunho poético das charges fica evidente em alguns momentos. Num
ano como 2020, em que o real se apresenta sob a forma de tsunami ou avalanche,
numa espécie de fluxo maciço e incessante de notícias ruins, o que foi novidade
logo se torna mais um ponto perdido na memória ― e precisamos às vezes nos
esforçar para lembrar que aquilo que nos parecia, num momento do passado, uma
imagem de fim do mundo agora pode ser só nota de rodapé no horror mais geral ―
o que torna tudo ainda mais grave, porque, ao crime, se soma o esquecimento.
Veja-se, por exemplo, aquela charge que, rememorando o vazamento de petróleo
cru que atingiu inúmeras praias brasileiras no segundo semestre de 2019, cujo
responsável ainda não se conhece por pura incompetência ou inapetência das
autoridades, diz que o «governo patina no óleo». Mas é a catástrofe da pandemia
― na qual o déspota identificado no livro como BZ, forma abreviada de «Bozo»,
ou apenas B. encontrou uma ocasião propícia para os seus ímpetos genocidas
jamais ocultados ― que dá o tom geral e unifica o livro sob o signo do horror.
*
A
sátira se voltava, de praxe, contra a hipocrisia dos poderosos, contra o teatro
por meio do qual ocultavam os procedimentos utilizados para conquistar e
conservar o poder. O poeta satírico queria desmascará-los. O que acontece,
porém, quando nem a hipocrisia resta, entre os que governam, como simulacro de
civilidade? O que sobra para a sátira quando os maus atores desistem até mesmo
do mau teatro? Talvez, antes de tudo, desnaturalizar os próprios gestos. É por
isso que Francisco dos Santos tematiza, numa de suas imagens-textos, o próprio
gesto da charge ou do cartum: recordando o caso do cartunista canadense Michael
de Adder, que foi demitido do jornal em que trabalhava por conta de uma desenho
no qual representa Donald Trump «jogando golfe / ao lado dos / corpos dos dois
/ imigrantes sal- / vadorenhos en- /
contrados / mortos na fron- / teira com o México»; no desenho, o presidente
norte-americano, com um taco na mão, olha para os corpos e pergunta: «Impor- /
tam-se que eu / continue o / jogo?». O chargista se importa.
----
Eduardo Sterzi nasceu em Porto Alegre em 1973 e vive em São Paulo
desde 2001. É escritor, crítico e professor de Teoria Literária na Unicamp.
Atualmente, conta com uma bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Publicou,
entre outros, Prosa, Por que ler Dante, A prova dos nove: alguma poesia moderna e a tarefa da alegria, Aleijão, Cavalo sopa martelo e Maus
poemas. Organizou, entre outros, Do
céu do futuro: cinco ensaios sobre Augusto de Campos. Com Veronica Stigger,
foi responsável pela curadoria da exposição Variações
do corpo selvagem: Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo, apresentada em
São Paulo, Araraquara, Frankfurt (na Alemanha) e Guimarães (em Portugal). Eduardo Sterzi
<eduardosterzi@gmail.com>







